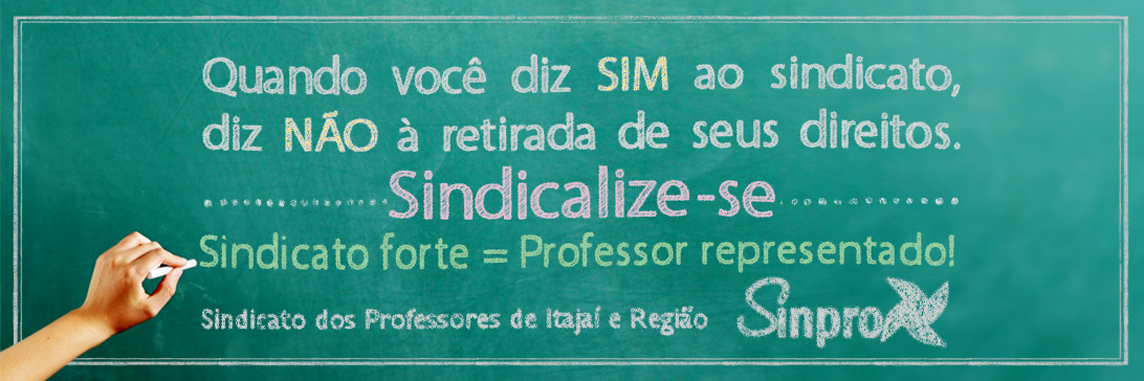“Coronavírus infecta o óbvio da vida: sobre filme e verdade”, do diretor do Sinpro Itajaí e Região, José Isaías Venera, articula o filme O Poço com a pandemia e a política atual problematizando o individualismo extremo.
A narrativa do filme O poço impressiona pela sua atualidade subjetiva, sobretudo pela mensagem assustadoramente verdadeira que nos vincula ao filme: o individualismo ao extremo leva o outro, de quem dependemos, à morte.
Em O poço, filme espanhol de 2019, que integrou o catálogo da Netflix no dia 21/03, o diretor Galder Gaztelu-Urrutia mistura cenas de escatologia e canibalismo, assim como os gêneros suspense, terror e ficção. A narrativa impressiona pela sua atualidade subjetiva, sobretudo pela mensagem assustadoramente verdadeira que nos vincula ao filme: o individualismo ao extremo leva o outro, de quem dependemos, à morte.
Um paralelo mais evidente desta verdade que tem estrutura de uma ficção – como aparece nos ensinos do psicanalista Jacques Lacan – foi a tentativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de comprar, de uma empresa alemã, os direitos exclusivos de uma vacina ainda em teste para o coronavírus, como expôs Judith Butler em sua análise necessária sobre a pandemia, publicada no blog da editora Boitempo. O direito à exclusividade significaria que todo o resto do mundo poderia morrer, menos o povo escolhido. Evidentemente, no que se refere ao seu desejo, imagina-se que o povo escolhido seja aquele que pode votar nas próximas eleições — e de preferência, os seus eleitores.
No Brasil essa verdade chega aos nossos ouvidos diariamente. “Vai morrer mais gente fruto de uma economia que não anda do que do próprio coronavírus”, afirma Bolsonaro em discurso no dia 17. No mesmo dia, questionado, o presidente registra que há uma grande histeria em torno do coronavírus; o pastor Silas Malafaia critica medidas restritivas e nega fechar as portas das igrejas; “Não podemos [parar] por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer”, coloca Junior Durski, empresário da rede Madero.
O que temos visto nesta escatologia social é a defesa da propriedade e das condições necessárias para a obtenção de lucros acima da vida. Verbalizar sem pudor que a morte de 5 mil ou 7 mil pessoas não importa ou que a preocupação com a pandemia não passa de uma histeria é o mesmo que defecar no povo. Quando o protagonista de O poço, Goreng (Ivan Massagué), acordou no nível 6, encaminhando para a parte final do filme, conheceu Baharat (Emilio Buale) no momento em que o novo amigo de cela tentava, com ajuda de uma corda, passar ao nível 5, mas, antes que chegasse lá, a personagem de cima defecara sobre sua cabeça, lançando-o novamente ao nível de origem. Uma cena escatológica que reduz o ser humano a nada, aquele que pode ser matável, tornando explícito o conceito de vida nua do filósofo Giorgio Agamben.
Quando Goreng entra voluntariamente à prisão para conter seu vício de fumar — é revelado logo no início do filme —, acorda na cela 48, vê seu primeiro parceiro sentado à cama e, então, pergunta: “O poço?”. “É, o poço, e o mês mal começou”, responde Trimagasi (Zorion Eguileor). “Então a pergunta é: o que vamos comer?”. “O que vamos comer?”. “É óbvio, o que sobrou de cima.”. “O que tem lá em cima?”. “O nível 47. É óbvio.”. “O que consiste o poço?”, pergunta Goreng. “Óbvio, comer.”.
Trimagasi se coloca como proprietário da palavra óbvio: “Só se você me prometer que não vai roubar a palavra óbvio”. Esse significante não é gratuito. Óbvio é uma palavra que expressa o que se naturalizou e não é passível de análise para aqueles a quem a linguagem assujeita-se completamente, como um vírus que infecta o corpo. Assim, é óbvio que aqueles das celas acima comerão em excesso sem pensar que os debaixo poderão morrer de fome, além de um ou outro cuspir, mijar e cagar enquanto os restos de comida descem. Para Trimagasi, “existem três tipos de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem”.
Naturalizadas as posições, basta viver assujeitado, o que significa que é natural que a maioria fique com as sobras, outra parte seja matável, enquanto uma minoria que ocupa as posições dos andares acima possa usufruir o que há de melhor.
A verdade assustadora é esta que aponta para a naturalização da vida individualizada, levando mesmo aqueles que estão nos andares mais baixos a pensar somente em si, desconsiderando a possibilidade da partilha do que é essencial à vida. O que faz com que um interno ao poço naturalize práticas individualistas que podem levá-lo à morte? A esperança de poder acordar em um andar superior e, assim, usufruir o que há de melhor, enquanto são oferecidas àqueles que estão embaixo sobras pisoteadas. Essa prisão, que é um mergulho aos horrores de uma sociedade que começa a implodir minada pelo individualismo tosco — Bolsonaro não se preocupa com o Covid-19 porque foi “atleta” —, leva as pessoas a sentir mais ainda o mal-estar da ambiguidade entre o medo e a esperança. Medo de ser o próximo a morrer e esperança de um milagre acontecer. Nesse sentido, a esperança é um afeto que paralisa o sujeito.

Entre o assujeitamento e a subjetivação
É verdade que o individualismo ao extremo é dominante em O poço, mas não totalizante. Os questionamentos de Goreng rapidamente são classificados por Trimagasi: “Você é comunista”. Trimagasi pode ser interpretado como significante de corpos assujeitados à ordem dominante que torna a vida naturalizada — o que é da ordem cultural, mas que adquire sentido de natureza humana; ou, para dizer de outra forma, é o funcionamento da ideologia. Trata-se de algo que se reproduz na sociedade sem ao menos pensar em suas consequências, como a defesa da lei do mais forte, a existência de uma supremacia racial (basta observar que há um sentimento de supremacia que mobiliza o desejo dos munícipes do sul do país em cultuar uma suposta identidade europeia), a dominação masculina sobre a feminina, o determinismo de gênero etc. Sentimento dessa natureza fez Trimagasi enunciar os motivos de sua prisão: “eu peguei a minha televisão, joguei ela pela janela e ela caiu em um maldito imigrante ilegal”. O imigrante como esse que pode ser matável fez com que “injustamente” um superior fosse preso.
Goreng, ao contrário, funciona como significante de outra ordem. Rapidamente ele percebe que, se cada um comesse o suficiente para matar a fome, haveria comida para todos. O que Trimagasi chama de comunismo nada tem a ver com experiências traumáticas de governos totalitários, mas, sim, com a defesa de práticas de solidariedade, ao perceber que um indivíduo depende do outro — e essa interdependência constitui o fundamento do laço social.
É interessante que, após um mês, os presos acordam em outra cela, podendo sair de um andar superior para andares mais baixos, aproximando-se do fundo do poço, onde não há possibilidade (pelo individualismo) de chegar restos de comida, tornando a vida nua, o que abre espaço para o canibalismo.
Novas formas de assujeitamento
A pandemia do coronavírus é um real que altera nossa realidade. Um estranho que sacoleja a repetição dos dias e a neurotização da vida. Desse contato indesejante, dois campos de forças se projetam: de um lado, a intensificação de um projeto de vigilância e controle —ancorado no estado de exceção; de outro, novos processos de subjetivação se formam em reação à foraclusão dos laços sociais pela vigilância e controle.
A publicação, pelo presidente, no domingo (22), no Diário Oficial, de uma MP (Medida Provisória) que autoriza suspensão de contrato de trabalho por 4 meses é um exemplo do modus operante do estado de exceção (no dia seguinte o presidente excluiu o artigo temendo a repercussão negativa que causara). Agora, a realidade é muito mais preocupante pela sua projeção para o futuro, quando o estado de exceção estará a serviço de aprofundar os mecanismos de vigilância e controle.
Na cela em O poço, quando um preso tentava acumular comida, ao descer a “mesa” para o andar inferior, logo uma reação acontecia, como a elevação da temperatura, forçando o condenado a lançar o alimento pelo fosso. A vigilância em confinamento tem função de disciplinar o vigiado. Não se viam câmeras de vigilância, sensores, apenas presos, a estrutura física e, em poucas vezes, uma grande cozinha industrial com um chefe fiscalizando a qualidade dos pratos, todos escolhidos pelos próprios presos quando entraram pela primeira vez no confinamento. A estrutura vertical ia da parte superior, na qual se produzia uma deliciosa comida que entraria pela boca dos presos, iniciando pelos andares superiores, e desceria aos poucos até os pratos já raspados chegarem aos andares mais baixos, onde o próprio corpo humano se tornou alimento dos mais fortes. A estrutura vertical se apresenta como um paralelo entre o corpo e a prisão.
Certamente não estamos numa grande prisão, e muito menos nossa relação com os dispositivos de vigilância são da ordem da disciplina do corpo e para o cumprimento das regras. Ao contrário, nossa relação com a vigilância é voluntária, da ordem do desejo. Nós mesmos fornecemos as pistas para que nossa “alma” seja capturada, assujentando-nos à lógica do mercado. Enquanto no século XX as forças de dominação estavam concentradas nas formas de reprodução em série e no conteúdo levado, como nos meios de comunicação de massa; agora no século XXI a dominação passa pelo conteúdo oferecido pelo sujeito conectado à internet. Seus gostos, suas estruturas de pensamento, seus posicionamentos políticos, suas marcas preferidas, seus pratos favoritos, tudo isso e muito mais compõem a big data. A dominação não passa pela massificação do conteúdo, mas pelo domínio dos algoritmos. Se você é evangélico e condena o aborto, receberá no cardápio de seu WhatsApp um político que pensa igual a você e a demonização de outro fazendo com que as chamas de sua fé fiquem ainda mais acesas.
A China, nos últimos anos, tem intensificado os investimentos em vigilância em massa e em tempo real por meio de uma central de análise de dados. Deslocar-se pelas ruas, dirigir um automóvel, entrar numa loja. Seu comportamento controlado e vigiado se integra a um “cenário de classificação”; o controle no mundo digital compondo o real do virtual nos nossos corpos — algo que, em graus diferentes, praticamente quase todos já vivenciamos. Quando fazemos uma reserva de uma carona paga no Blablacar, temos acesso à pontuação do condutor, e o condutor tem acesso à nossa pontuação, gerando a cultura do autocontrole para uma boa aceitação social e mercadológica.
A vigilância e o controle no mundo digital não se dão mais pela disciplina, mas pelo controle das evidências dos nossos desejos revelados pelo modo como interagimos na internet e pela lógica de funcionamento de aplicativos de classificação de seus usuários. Quando isto chega a uma política de Estado, como no caso da China, mas poderíamos citar também os EUA com as revelações feitas por Edward Snowden, vemos silenciosamente e de forma oculta o sequestro de nossa subjetividade. A liberdade que imaginamos ter é a realização do desejo do Outro.
Novos processos de subjetivação
Não há assujeitamento sem subjetivação, assim como não há dominação sem resistência. Em O Poço, é Goreng que nega o óbvio, é Imoguiri que aparece com sua voluntariedade espontânea, é Baharat que aceita a cruzada de Goreng ao fundo do Poço, é Miharu (Alexandra Masangkay) à procura de sua filha – além de aparecer nos sonhos de Goreng, como se fosse a Dulcinéia de Dom Quixote; eles são forças desviantes.
Nas tentativas de mudar o sistema, o filme termina de forma enigmática por não revelar o que aconteceria com o menino colocado sobre a base que servia de mesa, saindo do fundo do poço às alturas. Lá, acima ainda dos operários — sejam aqueles que preparam as comidas ou os que recebem as pessoas e as encaminham para o poço —, há os “administradores”, sem nome próprio, sem cara, uma espécie de grande irmão, esse personagem fictício de George Orwell. O Big Brother é essa realidade virtual que faz dos corpos a realidade do virtual. Quando o virtual se atualiza nos corpos e se cristaliza, a vida se naturaliza.
Uma pandemia pode desestruturar a realidade naturalizada e fazer nascer novas formas de interagir com o mundo, novos processos de subjetivação. A questão é saber, lá em cima, como se dariam as relações de poder com essa descoberta, ao tornar explicito que os aparelhos de repressão funcionam em conformidade com o estado de exceção – já que seria proibido ter crianças no poço.
Numa leitura cristalizada, aceitando o óbvio, o final de O poço poderia ser redentor. O paraíso estaria nas alturas (céu), onde a ceia diária é preparada e, ao descer, o humano, pela sua natureza, transformaria o alimento em pecado, até chegar no fundo do poço, no andar 333 – como são dois presos por cela, chegamos ao número da “besta”, 666. A criança tendo vencido o inferno, voltaria ao céu mantendo sua pureza e se encontraria com o pai superior.
Diferentemente, em uma leitura que questiona o óbvio, sem esperança, como a proposta, não há céu e inferno, apenas o movimento incansável por dominação fazendo, também, emergir processos de resistência (subjetivação) que buscam novas formas de existir e habitar juntos.
Para além das dúvidas, seria bom fazer como Goreng: ter em mão a companhia de Dom Quixote talvez ajudasse a preservar a capacidade crítica de olhar para moinhos de vento e ver monstros. O olhar da personagem, como demonstrou Michel Foucault em As palavras e as coisas, deu independência à linguagem, que deixou de funcionar na representação verossímil do mundo, para a apresentação do mundo, como as coisas (moinhos de vento) representadas/apresentadas pelas palavras (monstros).
O cavaleiro “errante” desafiava o mundo naturalizado em um devir menor, saindo das literaturas cavaleirescas para se tornar literatura. Assim como fez Goreng, sua atualização contemporânea, seja pela semelhança física do personagem ou pela sua aventura que desafia os limites da realidade cristalizada. Uma cena emblemática nesta direção é quando Goreng começa a comer as folhas da obra de Cervantes.
Assim, os moinhos de vento que servem para produzir energia talvez escondessem uma outra realidade, aquela em que é preciso produzir mais energia do que a oferecida pela natureza para manter o princípio da acumulação: acumular muito para poucos e deixar, à maioria, todo o resto.
Desnaturalizar o mundo é o passo “errante” de Dom Quixote/Goreng. Mas qual seria o nosso monstro que se aproveita das ameaças reais – como o coronavírus e tantos outros, sendo alguns imaginários – para reduzir nossos direitos, além de ampliar os mecanismos de controle para estender mais ainda sua sede por dominação?
José Isaías Venera é professor dos cursos de comunicação da Univille e Univali, SC, e doutor em Ciências da Linguagem pela Unisul.
Reproduzido do Le Monde Diplomatique Brasil: https://diplomatique.org.br/o-coronavirus-infecta-o-obvio-da-vida